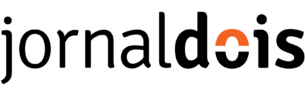“Foi um período maldito”: o que a ditadura militar deixou para trás em Bauru
Histórias bauruenses que guardam a memória, buscam a verdade e ainda esperam por justiça
Publicado em 10 de fevereiro de 2023

Por Caroline Campos, Giullia Colombo e Vitor Tenca
Edição Michel Amâncio
Jazigo 39, quadra 04, setor C. Com essas coordenadas, pudemos encontrar o retângulo lapidado que guarda o descanso final de Julieta Petit da Silva e sua filha, Maria Lúcia Petit da Silva. Um gramado exageradamente verde e bem-cuidado se estende de uma ponta a outra na extensão ensolarada do cemitério Jardim do Ypê, localizado no bairro Parque das Nações, em Bauru, interior de São Paulo.
Era uma segunda-feira de clima ameno e o local estava vazio – com exceção de alguns funcionários trabalhando e de quero-queros esporádicos se aninhando por cima dos túmulos. Se nosso objetivo era encontrar qualquer tipo de homenagem à resistência da família Petit na luta contra a ditadura militar (1964 – 1985), nosso objetivo foi frustrado. Na realidade, os jazigos seguiam basicamente o mesmo padrão – um ou outro que se destacavam, seja pelo material mais bem abastado ou por um cercado de grama ao redor.
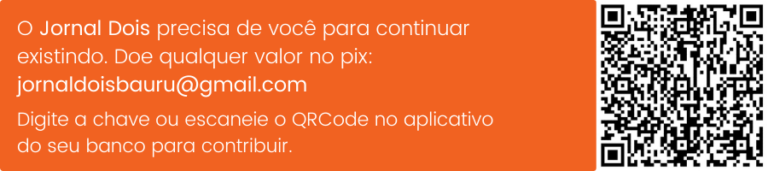
Entre as muitas memórias da ditadura que se embrenham pelas ruas de Bauru, aquela que fica reclusa a sete palmos do Jardim do Ypê é uma das mais significativas. O túmulo que acomoda Julieta, Maria Lúcia e Germano Petit também possui dois vazios simbólicos: Lucio e Jaime, que deveriam estar descansando ao lado da família. No entanto, nem seus nomes nem seus corpos estão lá. Os filhos de Julieta e José Bernardino e irmãos de Maria Lúcia, Clóvis e Laura estão desaparecidos desde 1973.
“Quando a revolução for vitoriosa, voltamos para te buscar”
Foi o que disse Lucio Petit ao seu irmão caçula, Clóvis, antes de embarcar rumo a uma experiência revolucionária no Norte do país. Quem nos conta essa história, na verdade, é Laura Petit, que, aos 76 anos, relembra dos irmãos com pesar e emoção. “Não houve volta”, recorda. Laura é a filha do meio entre os cinco filhos da família; mais velha que Maria Lúcia e Clóvis, mais nova que Jaime e Lucio.
São três os irmãos Petit que integram a lista dos 434 mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar, divulgada pelo Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), em 2014, e entregue às mãos da então presidenta Dilma Rousseff. Maria Lúcia, Jaime e Lucio foram assassinados brutalmente durante a Guerrilha do Araguaia, quando mais de 70 militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e camponeses aliados passaram a atuar na região do Bico do Papagaio, situada entre Pará, Maranhão e o atual Tocantins.
O objetivo da ação era iniciar uma revolução socialista pelo campo, a exemplo da experiência chinesa. Assim, os militantes comunistas começaram a se instalar no local em 1966, mas foi a partir de abril de 1972 que o Exército iniciou operações de extermínio com o objetivo de esmagar a ação, oprimindo e vitimando guerrilheiros, camponeses e povos indígenas.

Os remanescentes ósseos de Maria Lúcia Petit da Silva foram encontrados em 1991 e reconhecidos em 1996. A distância de cinco anos entre as datas não é por acaso; Laura e sua mãe, Julieta, muito lutaram para que o processo fosse enfim concluído e Maria Lúcia, enterrada.
A menina mais nova da família era professora, militante do PCdoB, adorava ler e tinha pouco mais de 20 anos quando deixou a casa da mãe para pegar em armas no Araguaia contra a ditadura militar. A família recebia cartas e notícias esporadicamente através de membros do partido, mas, em junho de 1972, na região do Pau Preto (PA), Maria foi executada com um tiro em uma emboscada.
Dezenove anos depois, em 1991, após uma dica sobre o paradeiro do corpo do médico guerrilheiro João Carlos Haas Sobrinho, uma expedição liderada pela Comissão da Justiça e Paz e pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos partiu rumo à região do Araguaia.
No cemitério de Xambioá, em Tocantins, três ossadas foram encontradas pelas comissões – entre elas, a de uma mulher entre 20 e 24 anos. O responsável por exumar os corpos foi o legista e então diretor do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, Fortunato Badan Palhares, mas, depois da ossada ser transferida até Campinas, Laura teve dificuldades em falar com o médico. Para tentar agilizar o processo, a irmã mais velha buscou pelo dentista Jorge Tanaka em Bauru, que tratou os dentes de Maria Lúcia na adolescência. No entanto, a ida do profissional foi negada pela equipe legista.
“Nós ficamos de 1991 até 1996 sem conseguir que ela fosse reconhecida, até uma reportagem do jornal O Globo divulgar uma imagem onde eu reconheci ser a Maria Lúcia morta, com um saco plástico na cabeça. Foi um choque para mim, mas, com isso, voltamos com a foto na mão para que a identificação fosse feita. Só então foi autorizada a ida do dentista e do protético [Benedito Bueno de Moura] para fazer a identificação da arcada dentária. Ela foi confirmada no dia 15 de maio de 1996”, conta Laura.
“Para a minha mãe foi muito triste, mas foi um alívio poder sepultar a filha. Quando soube, em 1991, ela já havia comprado um terreno no cemitério de Bauru, aguardando com a certeza de que ia receber o corpo. Foi uma vitória, nós fechamos um ciclo”.
“Foi a prova do extermínio que tinha acontecido no Araguaia, de uma guerrilha que o governo nunca reconheceu a existência”, diz Laura.
A ativista relembra a reação da mãe, que esperou se reencontrar com os outros dois filhos até o fim da vida. Dona Julieta Petit da Silva faleceu em abril de 2007, sem notícias de Jaime e Lucio, e foi enterrada em Bauru do jeito que queria: ao lado de sua filha Maria Lúcia.
Em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo desaparecimento oficial de 62 pessoas durante as operações militares pelo fim da Guerrilha do Araguaia. Pesquisas independentes afirmam, inclusive, que esse número é maior. Na época, a Corte também decidiu, como comunicado, que o país “é responsável pela violação do direito à integridade pessoal de determinados familiares das vítimas, entre outras razões, em razão do sofrimento ocasionado pela falta de investigações efetivas para o esclarecimento dos fatos”. Segundo o Relatório Final da CNV, apenas 2 militantes mortos na guerrilha tiveram seus restos mortais localizados – Maria Lúcia Petit da Silva e o estudante cearense Bergson Gurjão Farias.
“Eles [militares e aliados] chamam isso de revanchismo, que a gente quer abrir feridas. Mas é um direito que toda família tem de enterrar os seus entes queridos, dar sepultura digna e, inclusive, poder fazer o luto. A gente carrega para o resto da vida essa coisa de não poder chorar sobre seu parente. E isso é um duplo castigo para nós, familiares. Nós carregamos não só a perda, mas esse luto eterno, que nunca se concretiza”, reflete Laura, que viu sua irmã pela última vez no final de 1970.
Sobre Jaime e Lucio, as notícias nunca foram concretas. O mais velho, Lucio, era engenheiro e sobreviveu até o final da guerrilha, em 1974. Laura diz que a última vez que o militante foi visto com vida foi entrando em um helicóptero como prisioneiro. A suspeita é que tenha sido jogado da aeronave.
Jaime, por sua vez, foi metralhado em uma cabana de palha e decapitado para que sua cabeça fosse reconhecida posteriormente. As recompensas pela captura de guerrilheiros chegavam até 5 mil cruzeiros. “Eu imagino meus irmãos, por quais situações eles passaram, o que sofreram antes de serem mortos. É uma dor muito grande”, completa.

Em junho de 2022, a morte de Maria Lúcia Petit da Silva completou 50 anos. No entanto, Laura ficou com receio de realizar alguma homenagem a sua memória, já que o Brasil estava entrando em período eleitoral e, segundo ela, “com esse governo [de Jair Bolsonaro], foi impossível de se pensar”.
Mesmo assim, Maria foi lembrada: ainda em 2022, em Campinas, uma rede de apoio a mulheres em situação de violência foi criada a partir do Movimento de Mulheres Olga Benário. A rede foi batizada de Maria Lúcia Petit. “Fiquei muito emocionada. É como diz a música: ‘apesar de você, amanhã há de ser outro dia’. E será”, finaliza.
Nunca esquecer, nunca perdoar
A cerca de 5 km do cemitério Jardim do Ypê e de seus túmulos de resistência, Carlos, Malu e Jolie dividem uma casa verde cheia de livros, plantas e memórias. Jolie, na verdade, é uma pastora alemã de 7 anos, que foi adotada ainda filhote pelo casal Carlos Roberto Pittoli, de Avaí, e Maria de Lourdes Tezani Pittoli, de Bauru, casados há 50 anos e sobreviventes dos anos de chumbo.
Para contar sua história, Carlos, hoje capitão reformado do Exército, relembra seu papel como integrante da chamada “esquerda militar”, ou seja, militares que se opuseram ao golpe de 1964. Pouco tempo depois da derrubada de João Goulart, Pittoli iniciou o serviço militar, momento em que a política já fazia parte da sua vida.

“Em 1965, eu estava servindo o 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna (SP). E lá eu revi o Darcy, que é daqui da região. A gente se reencontrou e ele me levou a uma reunião com o pessoal da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR”, conta Carlos sobre quando serviu com Darcy Rodrigues e Carlos Lamarca, importantes líderes da VPR e da esquerda militar. Lamarca foi assassinado em 1971.
Em 1969, quando já havia sido promovido a terceiro-sargento, o militante foi preso sob a acusação de “participar de processo contrarrevolucionário”. Pittoli foi transferido com frequência – passou pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), por uma solitária na Fortaleza de Itaipu, pelo Presídio Tiradentes e pela Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru).
Comandada pelo coronel Erasmo Dias, foi em Itaipu, uma base militar na Praia Grande (SP), que o militar ficou trancafiado por quase um ano, no que ele chama de “masmorra”, onde recebia visitas aos domingos da família. Quem levava seus pais para visitá-lo era Malu, que precisou noivar às pressas com o companheiro para poder integrar a lista de visitas autorizadas. “Essa mulher que tá aqui do meu lado andou atrás de mim o tempo inteiro. Ela ficou comigo, me visitando, levando meu pai, minha mãe, meu irmão, o advogado”, diz, apontando para a esposa, que providenciou as alianças na época.
Era Malu quem também levava pilhas de livros para Pittoli na cadeia. “Eles não proibiam de ler, então eu lia 20, 30 livros por mês. Lia tudo que caía na mão – tudo de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de Érico Veríssimo. O que pintava a gente pegava, e tinha que ler para poder suportar a passagem do tempo”. A bauruense, que foi professora e diretora de escola, também lembra do período difícil: “como eu sempre gostei de ler e escrever, abasteci esse daí com meus livros. Mas eu nunca nem tinha ido para São Paulo, nunca fomos de viajar porque meu pai não tinha dinheiro”.

A literatura, no entanto, apenas amenizava o cárcere, que foi acompanhado de tortura física e psicológica. “A tortura é difícil, judia muito da gente. Acabamos envolvendo outras pessoas mesmo não querendo. É muito severo. Parece que o dia não termina no dia, é uma loucura. Era murro, porrada, cassetada, e ainda ficávamos pendurados por horas”, conta Carlos, que, após Itaipu, ainda foi transferido para Tiradentes e para o Carandiru – só sendo solto em 1972. “Nós passamos por momentos inesquecíveis e inenarráveis. Você não quer falar, mas tem que se saber o que aconteceu. Para que não se repita. Para que não aconteça mais”, completa Pittoli.
Darcy Rodrigues, companheiro de luta de Carlos e capitão do Exército, faleceu em Bauru em maio de 2022 aos 81 anos, e está enterrado no mesmo cemitério que Julieta e Maria Lúcia, no Jardim do Ypê. Carlos e Malu lembram do guerrilheiro, preso em 1970 no Vale do Ribeira, como um homem de muita força, e sentem pesar pelos amigos que morreram ao longo do tempo, especialmente naqueles 21 anos de ditadura. “Foi um período maldito. O pessoal chama de revolução, mas não é. É golpe. Não pode deixar de falar, temos que estar sempre lembrando”, alerta o avaiense.

Em fevereiro de 2022, o casal completou cinco décadas daquele casamento pós-cadeia, e afirmam que, se precisassem, fariam tudo de novo. Com 76 anos, Carlos vê em Malu, de 78, o motivo de sua força: “vocês não fazem ideia do que é essa mulher. Ela é uma heroína. A gente encontra a pessoa certa na vida”. E a companheira finaliza: “estava escrito nas estrelas”.