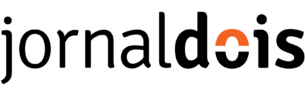Por baixo dos trilhos: a história indígena bauruense
A partir da história de Bauru, Irineu Nje’a, historiador, juntamente com a Raial Orutu Puri, antropóloga, falam sobre o abril indígena, a ausência de políticas públicas do município e temas como reparação histórica e retomada ancestral
Publicado em 19 de abril de 2021

Por Victória Ribeiro
Edição Bibiana Garrido
Em julho de 1905 começava a construção da ferrovia Noroeste em Bauru. Considerada um dos grandes marcadores do desenvolvimento da cidade, a ferrovia alimentou perspectivas de futuro e hoje, apesar de estar em estado de abandono, é considerada um símbolo que remonta o imaginário da população em relação ao passado do município. Irineu Nje’a, historiador indigena de etnia Terena, lembra que Bauru inicia sua história muito antes da chegada dos trilhos e carrega histórias de um Brasil profundo, com violências das quais poucos sabem e poucos falam. Nascido na terra de Araribá, localizada em Avaí, ele explica que o nome da cidade conhecida como “cidade-sem-limites” ou “cidade-lanche”, vem de “ybá-uru” que, traduzido da língua tupi, significa “cesta de frutas”. Segundo o historiador, a origem e significado do nome, pouco conhecidos, são indicativos de uma história desconhecida ou pouco valorizada e que hoje vem enfrentando uma “sobreposição de culturas”.
De acordo com o documento “Primeiros Tempos da Nossa Bauru”, considerado a narrativa oficial sobre a cidade, a história de Bauru começa em 1856, com a chegada de Felicíssimo Antônio de Souza e Antônio Teixeira do Espírito Santo que “se estabeleceram na região e iniciaram um difícil trabalho, isto é, a derrubada de matas seculares, onde ergueram seus casebres para alojar suas famílias”. O documento, que não possui data e autor especificados, está no site da prefeitura e também faz parte do acervo do Museu Ferroviário Regional de Bauru. A narrativa fala de “lances emocionantes”, de “homens desbravadores”, “destemidos”, e que vinham de diferentes pontos do território brasileiro para travar batalhas em favor do progresso.
O historiador conta que a história de Bauru é anterior a essa. Antes da chegada dos considerados “pioneiros”, Bauru e região eram habitadas por indígenas Kaingangs, Guaranis e Xavantes. Irineu Nje’a ressalta que os “lances emocionantes” representam, na verdade, uma história de violência. “Bauru tem uma memória de sangue. Isso se inicia com a chegada dos não indígenas no Centro Oeste Paulista e principalmente com a construção da ferrovia Noroeste, que agora está sucateada. Precisou exterminar um povo para construir esse “progresso” e, no fim das contas, acontecer o que está acontecendo”. O historiador explica que os responsáveis pela construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil contratavam “brugueiros” que, na época, eram os encarregados pelas perseguições e assassinatos dos povos originários, vistos como ameaça à construção da ferrovia. “É uma história esquecida pela sociedade bauruense e da região. Parece que a história indígena não tem um valor histórico. Bauru precisa lembrar do que aconteceu. O maior genocídio da história precisa ser lembrado”, comenta Irineu.

De acordo com o Edson Fernandes, professor e historiador, um processo de análise de peças de cerâmica, aponta que Bauru e região eram habitadas por indígenas desde o século 15. O professor, que também é escritor dos livros “Fronteira Infinita” e mais recentemente do livro “Tempos de Violência”, que narram fatos ocorridos em Bauru e região, diz não haver dados quantitativos dos povos nesse período, mas que quando o processo de pacificação entre indígenas e não indígenas foi iniciado, no século 19, a população girava em torno de 1.500. “Era uma desigualdade gritante de força, armas de fogo contra arco e flecha. E nesses conflitos, eles destruíam aldeias. Temos registros de 80, 90 indígenas mortos em um único conflito”, conta.
Raial Orutu Puri, antropóloga indígena, conta que é comum que a história das cidades sejam contadas a partir da chegada do não índigena, uma história na qual uma única visão é contemplada e atos de violência vistos como heróicos. “O que eu vejo, nesse caso, e isso não é exclusivo de Bauru, é que se a gente fizer uma pesquisa em sites de prefeituras do país todo, elas são exatamente assim. Considero isso como sendo uma visão racista uma vez que desconsidera tudo o que vem antes e se inicia com a chegada do branco para “civilizar” a região”. Raial acrescenta, ainda, que a narrativa que caracteriza o indígena como violento é muito presente, principalmente na região Sul e Sudeste. “O indigena é o que comia gente, que atacava vilas, que não tinha alma. Essa narrativa justificava e justifica o genocídio. Cria-se o medo para justificar as ações”.
Edson Fernandes complementa que a violência contra indígenas é um tipo de violência característica do Brasil e que acabou sendo naturalizada pela sociedade tradicional. “Isso ficou na memória das pessoas. Então tudo bem se o índigena está “atrapalhando o progresso”, a gente vai lá e dá um jeito nisso. Ter essa consciência e olhar a história por a partir de outras perspectivas, ajuda a humanizar as pessoas e a humanizar a figura indígena. A mostrar que eles têm uma história e um modo de vida. Se as pessoas soubessem das atrocidades que aconteceram, teriam um olhar diferente sobre essa questão e sobre o outro”.
Segundo Raial, para a história ser contada de fato, é preciso que ela seja contada a partir de todos os seus personagens. “Eu acredito que se a Prefeitura de Bauru, que estamos pegando agora especificamente como exemplo, quisesse de fato contar essa história, ela deveria convidar indígenas, já que eles estão na cidade, fazendo parte da cidade, para que eles compartilhem sua versão e para que essa diversidade seja reconhecida. Não dá pra persistir em uma história em que a cidade só começa a partir da chegada de tal pioneiro. E o que vem antes? E o que continuou existindo mas que não é branco e cristão? Dessa forma, acredito que o processo de reparação histórica poderia ser feito, nesse caminho de incluir e chamar para se tornar visível”.
Reparação histórica
Já que não é possível voltar no tempo e desfazer o dano, reparar também quer dizer compensar. Isto é, deve-se algo a alguém. Segundo o historiador Bruno Leal, professor da UnB (Universidade de Brasília), “reparação histórica” se refere a ações pensadas para amenizar injustiças cometidas no passado contra determinadas comunidades ou grupos sociais. Em 2017, nas discussões das cotas para negros no funcionalismo público, o ministro e relator Luís Roberto Barroso classificou a diretriz “um dever de reparação histórica” decorrente da escravidão e do racismo estrutural existente na sociedade brasileira. Em 2020, a expressão também foi lembrada pela empresa Nubank, ao pedir desculpas por declarações consideradas racistas feitas pela co-fundadora do banco Cristina Junqueira no programa “Roda Viva”.
Para a antropóloga Raial Orutu Puri, o processo de reparação histórica tem a ver com a percepção de que a população indígena é parte atuante da história e está presente no mundo não indígena. “Os indígenas estão nas cidades, nas universidades, e são produtores de significados que não abandonam sua cultura e mesmo assim interagem com a sociedade envolvente. E essa sociedade precisa ser envolvente no sentido de não nos apertar ou sufocar, mas ser envolvente no sentido de ser inclusiva. Esse processo de reparação seria perceber que essas culturas estão vivas e que pretendem continuar vivas. E que ao mesmo tempo, essas culturas têm o direito de interagir com esse mundo de igual pra igual e não em uma posição assimétrica como sempre foi”.
Na opinião de Raial, os pedidos de desculpas são simbólicos, mas outras medidas precisam ser tomadas para que a reparação realmente se torne efetiva. “Eu acredito que seriam necessárias, para além desse pedido de desculpas, medidas como por exemplo a inclusão efetiva dos indígenas nas políticas públicas de saúde e de educação. Na saúde, por exemplo, a gente tem a saúde indígena, que leva assistência de saúde para população indígena aldeada. Porém, para os indígenas que vivem na cidade, essa saúde não chega”.
Em relação à educação, a antropóloga fala tanto da educação diferenciada, nas escolas em aldeias, como do cumprimento da lei 11.465/08 que determina o ensino da cultura indigena e afro-brasileira nas escolas fora de aldeias. “A gente percebe que esse ensino ainda se dá de uma maneira superficial e que reitera preconceitos. A gente está no mês de abril, mês do famoso “dia do índio”, mas a gente acaba por ver a cultura indigena sendo folclorizada diante da profusão da criança com rosto pintado. Esse dia poderia ser utilizado como um dia para se repensar essa cultura”. Irineu, por sua vez, comenta que devido aos enfrentamentos da população indígena, considera a data contraditória e motivo de reflexões. “Dia do índio é todo dia. A resistência é diária. Comemorar o que? Terras não demarcadas? Política anti-indígena? Mortes? Invasão de terras?”, questiona.

Irineu Nje’a, que há 18 anos atua na área da cultura em Bauru e região, comenta que sua busca pela reparação histórica é pela difusão do conhecimento. Com a Araci Cultura, uma organização sem fins lucrativos criada em 2014, o historiador fala sobre a cultura indígena em palestras, projetos, eventos e por meio da sua produção de artesanatos em argila. Um exemplo dado pelo historiador foi o desenvolvimento da biblioteca indígena na cidade que, no momento, está passando por um processo de reestruturação. A biblioteca, antes localizada no antigo prédio da estação ferroviária, agora ganha espaço no bairro Ouro Verde. Ele conta que foram mais de 600 livros conseguidos a partir de doações de universidades e instituições como a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Museu do Índio, localizado no Rio de Janeiro.
“São temáticas relacionadas apenas à questão indigena. É uma biblioteca bem importante para Bauru, para o desenvolvimento dos projetos, formação de professores e alunos. Um caminho que traz a luz para o conhecimento sobre a população indigena, para descolonizar a mentalidade e quebrar preconceitos”.
O professor conta que existem muitas dificuldades por trás desse trabalho, principalmente por causa da ausência de políticas públicas e investimento em cultura. “Faço aquilo que sei e posso, porque infelizmente sem investimentos fica difícil. Precisava de ajuda dentro do governo municipal e políticas públicas para conseguir desenvolver esse projeto como gostaria”.
A Prefeitura de Bauru não possui políticas públicas voltadas aos indígenas. Em nota ao Jornal Dois, o órgão justifica que isso se deve à ausência de aldeias indígenas no município. Uma pesquisa realizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (Arpinsudeste) em março deste ano aponta que a cidade possui ao menos 113 pessoas indígenas vivendo em contexto urbano.
Retomada ancestral
De acordo com um estudo produzido pelo projeto “DNA Brasil”, a formação genética brasileira é tudo menos equilibrada. Os dados genômicos das amostras de 1.247 brasileiros de diferentes regiões do país, apontaram para uma herança genética materna majoritariamente africana e indígena, enquanto a paterna é 75% europeia.
A antropóloga indígena Raial Orutu Puri ressalta que é comum pessoas brasileiras terem ancestralidade indígena, mas que esse ancestral, muitas vezes, foi uma mulher violentada e escravizada. Por esse motivo, a antropóloga acredita que outra forma de reparação histórica é a retomada ancestral, que significa o resgate e o reconhecimento do passado e das memórias interditadas no seio familiar.
Para ela, que iniciou o processo de retomada há 11 anos, esse processo representa uma forma de cura e uma forma de reposicionar esses ancestrais com uma equivalência à ancestralidade não indígena. “A gente tá condicionado a valorizar essas identidades europeias, esses avós alemães, italianos, portugueses e esconder qualquer ancestralidade não branca. Aqui no Brasil, temos tanto os ancestrais negros como os indígenas, mas o que me parece é que, nessa escala, o ancestral indígena é colocado ainda mais abaixo, de modo que praticamente toda referência que se costuma ter é de uma avó “pega à laço” e nada mais se fala”.
Na opinião de Irineu Nje’a, essa busca é extremamente importante e representa uma reverência aos ancestrais. “Essa busca da ancestralidade é fundamental, não só para o indivíduo único, mas para a nação brasileira. Nossa ancestralidade é indigena, negra e europeia. Então buscar essa ancestralidade, para um bem comum, para uma boa causa, é muito importante. Talvez você não saiba qual etnia ou qual sangue corre nas suas veias, mas a partir do momento que você reconhece que a história não pode ser contada sem mencionar os indígenas e reconhece a sua ancestralidade, aceita, e faz sua reverência aos ancestrais que enfrentaram as mais diversas violências, tudo muda energeticamente falando”.
Raial Orutu Puri, que é neta de avó indígena, comenta que o processo de retomada nem sempre é fácil pela dificuldade de se obter informações. A antropóloga conta que foi a partir de uma conversa com seu pai, nunca tida em trinta anos, que descobriu quem foi sua avó e de qual região ela era, o que possibilitou seu processo de busca e sua declaração como indígena de etnia Puri, que foi dada como extinta em 1853.
Para a antropóloga, se declarar como indígena também é um posicionamento político e significa confrontar a história do desaparecimento, mas de acordo com ela, nem todo mundo consegue as informações necessárias. “Por causa de processos extremamente violentos de sequestro, como tirar o indígena de um lugar para colocar em outro, muitas pessoas não conseguem ter acesso a essas memórias. Então até pode ser que por essa limitação, mesmo que realmente exista interesse em fazer o processo de retomada, ela não consiga chegar às informações que precisa e acabe por encontrar uma resistência dentro do povo, principalmente se for um povo que tem uma continuidade histórica maior. Mas mesmo que essa pessoa encontre alguns limites, pelo menos seria bom que ela buscasse valorizar. Se ela não pode valorizar seu próprio povo, que ela valorize os povos atuais e as identidades viventes”.
Dentro de uma perspectiva pessoal, Raial Orutu Puri conta que esse processo significou o encontro de um lugar no mundo. Ela conta que cresceu dentro de uma perspectiva confusa, em que não era considerada negra suficiente para ser parte do movimento negro e nem branca suficiente para ser considerada do mundo branco. “Eu vivia em uma busca constante. Queria entender quem eu era, de onde eu vinha. Óbvio, eu sabia que tinha nascido da minha mãe e do meu pai, mas era uma busca ainda mais profunda. E esses questionamentos só foram respondidos a partir do momento em que encontrei minha ancestralidade. Foi um processo doloroso por ter descoberto junto disso um passado de violência relacionado à minha avó, mas isso também me gerou força para eu de fato me colocar de pé e dizer quem eu realmente sou”.
Antes disso, a antropóloga comenta que a “síndrome do impostor” fez parte do seu processo de retomada. “Eu vejo muito dentro do meu povo, com os jovens do qual eu converso, uma coisa chamada ‘síndrome do impostor’, porque você passa a achar que aquilo não é pra você. Que você está querendo se dizer indígena atrás de privilégios, o que é extremamente engraçado porque não tem nenhum privilégio em se dizer indígena. Tem muita honra, coragem, mas privilégio não tem nenhum”.
Esse processo de retomada é transformado em música nas vozes das rappers Katú Mirim e Mc Lírica. Katú Mirim, mulher, mãe, bissexual, ativista, moradora da periferia paulistana e indígena em contexto urbano, utiliza sua arte para contar a história do seu povo, reivindicar direitos e descontruir estereótipos.
Na música “A Busca“, por exemplo, Katú fala sobre seu despertar para o resgate da sua ancestralidade. “Um dia olhei pro espelho e vi toda a terra roubada / Também vi caravelas chegando, criança gritando e sem entender nada / Ouvi a reza da igreja que silenciava o grito da mata / Ouvi meus ancestrais cantando / Levanta que é retomada”. Já em “Vestido de Hipocrisia“, a rapper aborda a folclorização relacionada ao uso de “fantasias de índio” e a violência enfrentada pela população indígena. “Vivemos resistindo e enfrentando artilharia / O seu racismo tem confete / Sua cara, hipocrisia“. Mc Lírica, por sua vez, é indígena em contexto urbano e integrante do grupo “Graja Minas”. Em suas músicas, Lírica fala sobre o apagamento e o genocídio indígena e conta que para poder contar a sua própria história nos palcos, precisou estancar o tempo e voltar à estaca zero, indo atrás de repostas para perguntas como “quem eu sou?” e “de onde eu vim?”. Em “Ouça e Respeita”, Lírica fala sobre reparação e faz reverência às suas ancestrais. “Ainda tá longe de equilibrar a conta / Morremos ontem, hoje enquanto canto ecoa” / Não mais “aqui jaz” / Grajamina chega e faz / Máximo respeito às rainhas lá de trás.”
Covid e a população indígena
Conforme o Censo Demográfico de 2010, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 41.749 indígenas autodeclarados no estado de São Paulo. No Brasil, o número chega a quase 900 mil pessoas, sendo que 379mil (42%), vivem fora das aldeias. Precariamente assistidas pelo governo, as comunidades indígenas enfrentam quase sozinhas o avanço da pandemia do coronavírus. De acordo com o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, um levantamento independente realizado pela Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib), registrou 52.406 casos confirmados, 1038 indígenas mortos e 163 povos afetados até esta quinta-feira, 15 de abril. Os dados divergem dos divulgados pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), que leva em consideração apenas registros em terras indígenas homologadas. De acordo com a secretaria, são 46.509 casos e 638 óbitos. Em 26 de março, o registro era de 51.385 casos, o que contabiliza um aumento de 1.021 casos em menos de um mês.
Localizada em Avaí, município vizinho de Bauru, a Terra Indígena de Araribá possui uma população de 638 pessoas divididas em quatro aldeias: Ekeruá, Kopenoti, Nimuendaju e Tereguá. Segundo Anildo Lulu Awarokadju, membro da coordenação executiva da Apib, integrante da Arpinsudeste e presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo, a covid-19 gerou pânico na população da reserva. Anildo, que é morador da aldeia Tereguá, conta que antes da chegada do coronavírus, os moradores de Araribá tinham outros objetivos, como por exemplo a luta pelo território e pela educação. “Com a chegada da covid, outras preocupações vieram à tona. Vivemos em comunidade e por não termos mais nosso espaço na mata e estarmos cada vez mais próximos aos centros urbanos, ficamos ainda mais vulneráveis”.
Jederson Marcolino dos Santos, vice-cacique da aldeia Nimuendaju, comenta que outra preocupação foi a economia. De acordo com ele, a maioria das pessoas que vivem em Araribá, trabalham com a venda de artesanatos e se viram impedidas de trabalhar pelo medo do contágio e pelas medidas restritivas impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), aponta que 82% dos indígenas estão submetidos à informalidade do mundo do trabalho e cerca de 30% dessa população se encontra em condições de extrema pobreza. Jederson conta que o auxílio emergencial, instituído em abril de 2020, ajudou financeiramente e com o cumprimento do isolamento social, mas que não foram todos que conseguiram acesso ao benefício.
Anildo fala também sobre o descaso com a saúde que a terra indígena de Araribá vem enfrentando. “Em momento algum houve preocupação da Sesai em mandar álcool em gel e máscaras para o nosso Polo-base. Nesse momento difícil, de contaminação de alto risco, a Sesai, através de seus Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI’s), que é onde são liberados combustíveis, remédios e máscaras, continua de braços cruzados. Se não tem equipamento de proteção individual, isso traz risco também para nossa comunidade. Se não tem luva, não tem máscara, não tem papel higiênico, dentro do polo base, isso é descaso e é inaceitável”. Tiago Oliveira, também morador da aldeia Tereguá, afirma que “essa precariedade e sucateamento da instituição já existe a longo prazo, mas se torna pior agora que a comunidade vem precisando de uma atuação mais forte”.
Apesar disso, a inclusão dos indígenas em contexto urbano no plano prioritário de vacinação, representou uma grande conquista para a população indígena brasileira. O grupo foi incluído por conta de uma ação movida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) no Supremo Tribunal Federal (STF) em junho de 2020. Em Bauru, as vacinações iniciaram em março deste ano, após o município se mostrar favorável à iniciativa.
Para o membro da coordenação executiva da Apib, Anildo Lulu, a necessidade de recorrer à vacinação dos indígenas em contexto urbano representa uma quebra constitucional. “A constituição diz que o indígena é indígena onde quer que ele esteja, na cidade ou na aldeia. A constituição rege esse direito. Quando se considera indígenas aldeados e discriminam indígenas em contexto urbano, a constituição está sendo quebrada”.
Para dar início ao plano de vacinação, a Arpinsudeste realizou uma pesquisa que contabilizou a existência de 113 pessoas e 70 famílias indígenas. Segundo Rodrigo Lujan, representante da Arpinsudeste em Bauru, desde que a vacinação se iniciou, a lista não para de crescer. “A gente vê que o número de pessoas é maior porque os nomes ainda estão chegando”, relata. Por outro lado, Edenilson Sebastião, o cacique Chicão da aldeia Kopenoti, lamenta a necessidade da pandemia para que a pesquisa fosse realizada. “Precisou de uma pandemia para que uma pesquisa envolvendo os indígenas da cidade acontecesse”. Mas mesmo assim, comemora: “primeira pesquisa sobre indígenas, feita por indígenas”.
Quando questionado sobre a importância da vacinação dos indígenas em contexto urbano, Anildo responde que se trata de uma “questão de vida” e acrescenta: “Nosso povo é discriminado. Não temos direito à nossa própria terra e já foi quase todo dizimado. É preocupante, então temos que lutar pela nossa vida. A tática do Estado é dizimar nossa população, acabar com a história, com a nossa força e com a mãe terra, mas a gente segue lutando. Depois que sairmos dessa situação, a nossa luta continua. A gente sempre vai estar procurando nosso espaço dentro desse espaço que um dia foi nosso”.