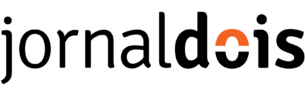Pastora, negra, lésbica: Marianna quer uma nova igreja para Bauru
Evangélica desde criança, começou a pregar com sete anos nos cultos que frequentava com os pais; hoje defende um evangelho inclusivo e para todos

Por Bibiana Garrido
Quando Marianna Bastos se descobriu lésbica foi expulsa da casa dos pais quatro vezes. Apanhou, foi acusada de pecadora pela igreja e pela família. Sempre voltava, arrependida, pedia pelo perdão de Deus e dos entes queridos. Até que percebeu que não estava errada.
Nascida no Parque Primavera, em Bauru, começou a pregar na comunidade evangélica quando tinha sete anos. Os pais se converteram na presbiteriana renovada quando ela tinha dois. Lá cresceu, pregou, firmou a sua fé e foi submetida à três disciplinas por se envolver com mulheres.
Aos 23 conheceu a igreja inclusiva e resolveu deixar o culto tradicional da família para seguir seu próprio caminho. Hoje, com 25, ela desenvolve o que chama de militância espiritual e quer abrir uma nova comunidade em Bauru.
Foi em um protesto que a vi pela primeira vez. Sem defender nenhum partido, ela anunciou que estava ali por sua fé. No meio da rua, pegou o microfone e reuniu à sua volta as pessoas antes dispersas pela Praça Machado de Mello, no centro. Falou sobre diversidade e direitos humanos, sobre o direito de existir. Os carros buzinavam, formavam fila, e o asfalto estava tomado de gente. Se apresentou: pastora, negra e lésbica.
A voz forte que estralou as caixas de som em defesa da população LGBT+. “A igreja fala em respeitar o próximo e a igreja inclusiva não pretende substituir o evangelho, ela é um anúncio do próprio evangelho”, diz ela. “As igrejas tradicionais não aceitam as uniões homoafetivas. Jesus mostrou que o amor dele é para todos”.
Marianna me recebeu para contar a sua história em um noite estrelada de lua cheia. Surgiu uma folga no meio da semana e conversamos em uma quarta-feira, acompanhadas de dois potes de salgadinhos, copos de refrigerante e seus três gatos: Cristal, Pérola e Thor.
Da missão na Bahia à unção pastoral
“Meu pai chegou pra mim e perguntou: ‘O que você quer ser quando crescer? E eu disse: ‘Pai, eu quero ser missionária”.
Sabe quando a gente é criança e fica imaginando como vai ser quando for gente grande? Marianna já sabia o que queria da vida desde os sete anos, pequenininha começou a participar da pregação na igreja que ia junto dos pais. Foi para um seminário em Assis e lá passou um mês com missionários indígenas, haitianos, angolanos e de vários outros lugares do mundo.
Não quis festa de 15 anos. Quis viajar em nome da fé. Foi dormir em colchão de palha e pegar água no rio em um vilarejo na Bahia. “Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida”, admite, apontando com os dedos os pelos do braço arrepiados. “Isso aqui ó”, e aponta para as lâmpadas da sala da casa, “eu valorizo muito a energia elétrica porque eu vi que lá eles não têm”.
Foi no vilarejo Formosa, perto da cidade de Vitória da Conquista, que ela viveu no trabalho missionário por um mês. A rotina era de madrugar para trabalhar na vila onde ficava a casa do pastor, de madeira, no meio do sertão. Cuidar da horta, vender alimentos, pedir doações para ajudar na assistência social, fazer grupos de oração. Ir à cidade, espalhar a palavra de Deus.
A comemoração dos 16 anos foi lá no nordeste. Bolo de fubá e recheio de goiabada, muito café e chá de plantas. Quando chegou em Bauru, Marianna queria embarcar em outros projetos missionários. Foi aí que as coisas começaram a mudar.
O primeiro beijo e o amor entre mulheres
“Eu descobri que tinha algo dentro do meu coração”, lembra, olhando longe no ar. “Senti que tinha uma lacuna, porque até então a igreja, supria essa necessidade”. A descoberta do amor veio na época da escola e não foi bem como ela esperava.
De saias longas, cabelo preso num coque, Marianna era popular e pregava nos intervalos da aula. Fez amizade com uma menina que não tinha lá tantos amigos quanto ela.
Se beijaram em um dia de chuva e de aulas dispensadas.
“Fiquei olhando, ela colocou a mão no meu rosto e a gente se abraçou. Foi um beijo…”, ela tenta descrever a sensação e não saem mais palavras da sua boca., que mostra os dentes brancos em um riso de lembrança. “Assim que acabou, abriu o tempo e a gente foi embora”. Quando chegou em casa, a culpa caiu nos ombros e ela foi chorar no banheiro. No dia seguinte, terminou o romance mal começado.
O segundo beijo com uma mulher aconteceu aos 18 anos. “Nós estávamos juntas no coral da igreja e a gente dançava também. E eu me vi de novo naquela situação, fiquei perdida”, conta Marianna. Apesar do medo das duas, namoraram escondido por três meses, “mas não teve ato sexual, nem nada”, adianta ela. O pastor descobriu e ficaram “de banco” porque tinham sido “tentadas pelo demônio”: a disciplina durou três meses, foram proibidas de integrar as atividades do culto, de cantar, tocar, pregar e participar dos grupos e atividades da presbiteriana.
A família também ficou sabendo e, nessa parte, ela não entra em muitos detalhes. Os pais deram bronca, mandaram as duas se separarem. Não podiam se falar, não podiam se ver.
Humilhações, hostilizações e ameaças são as principais formas de violência contra a população LGBT+, segundo estudo do Instituto Patrícia Galvão. O relatório sobre as agressões homofóbicas no Brasil de 2012 aponta que as violências psicológicas são as mais comuns (presentes em 83,2% das denúncias naquele ano). Em seguida, aparecem casos de discriminação (74%) e violências físicas (32,6%).
“Marianna colocou na cabeça dela que tinha que namorar um homem, porque tudo isso era uma loucura. E aí ela começou a namorar um rapaz que é mais afeminado do que ela”, ri, falando em terceira pessoa. “Todo mundo foi contra, porque também era uma palhaçada esse namoro. Mas eu queria me curar”.
Se considerando renovada depois do castigo e livre do pecado, a pastora voltou a pregar em Bauru e cidades vizinhas. Logo o primeiro namoro terminou. Aos 19 anos, entre o expediente que cumpria nas lojas Havan e os compromissos religiosos, não conseguiu fugir dos seus sentimentos por muito tempo.
O terceiro beijo foi com uma pastora mais velha. Marianna descreve de cabeça as roupas que ela usava quando se conheceram em um culto que administrava, acompanhada dos pais. De novo descobertas, de novo, de disciplina. “Aí eu não consegui mais mentir quem eu era, porque naquele beijo eu descobri o que era o amor”, afirma, com os olhos marejados. Com uma diferença de 30 anos de idade entre uma e outra, as duas tiveram um relacionamento às escondidas por dois anos e meio.
“Foi minha primeira relação afetiva sexual, me entreguei de corpo e alma. Abri mão de tudo para viver esse amor que foi muito recíproco e verdadeiro, durou dois anos e meio”, emociona-se.
A jovem tinha sido mandada embora de casa quatro vezes por se envolver com mulheres e foi viver com a namorada. Depois de discussões entre o casal, o segundo namoro terminou quando ela já não morava com os pais.
Sem ter certeza da sua orientação sexual, ela se forçou a transar com um homem porque “precisava ir para a cama e ver como era”. Pediu para um amigo de São Paulo, para que pudesse ser com alguém que confiava. “Fiz tudo que o figurino mandava. E nos finalmentes vi que não precisava provar mais nada pra mim mesma. Não senti prazer, senti dor e nojo”.
Marianna viveu mais dois rápidos romances com mulheres, até que conheceu Andrea, com quem é casada há quase três anos. “Meu coração hoje pertence a uma mulher”, garante, com um sorriso no rosto, as mãos uma em cima da outra, no centro do peito.
Fazer parte de uma igreja que não aceitava e não respeitava sua existência como mulher lésbica parou de ter sentido. Como mulher negra, Marianna afirma não ter passado por racismo com os evangélicos. “A igreja não é racista, mas tem igreja que é oportunista, que vira um império e se afasta das pessoas pobres”, critica a pastora.
Com 22 anos resolveu deixar a presbiteriana ao conhecer uma nova vertente das comunidades evangélicas.
A igreja inclusiva e a população LGBT+
Fundada nos Estados Unidos na década de 1960, a Comunidade Metropolitana foi a primeira da nova vertente evangélica inclusiva no mundo. No Brasil, chegou em 2002 o culto que acolhe pessoas bi, trans, homossexuais, travestis e todo o público rejeitado pelas igrejas tradicionais.
De acordo com reportagem da Revista Fórum, existem aproximadamente dez igrejas inclusivas espalhadas pelo país; em entrevista, o pastor Alexandre Feitosa aponta os erros das igrejas que excluem pessoas por conta do preconceito. “A homossexualidade é sempre tratada por um prisma negativo, da condenação, do inferno, da abominação. E tudo isso faz com que os cristãos LGBT+ que estão ali fiquem retraídos e cada vez mais refugiados em seus armários”.

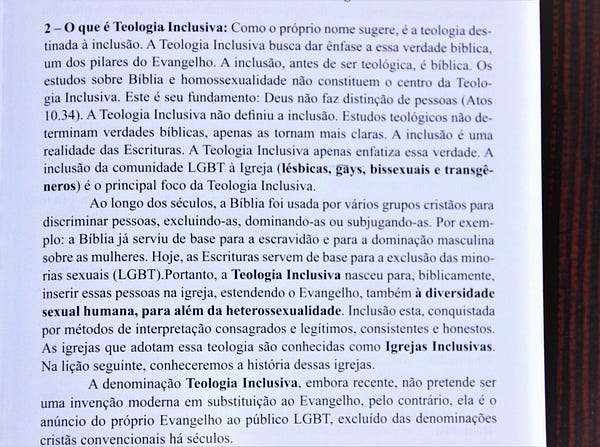
A igreja inclusiva ofereceu o apoio que Marianna precisava para continuar sua caminhada missionária. Ela lembra de como se sentiu no novo ministério em que começou a pregar: “Eu vi que Deus me aceitava e foi lindo”.
“Se eu for abrir uma igreja inclusiva aqui em Bauru, não vai muita ter gente frequentando, porque os evangélicos tradicionais rejeitam”, se preocupa a pastora. “Mas o que Jesus fez? Ele acolheu as pessoas que eram rejeitadas, mostrou que o amor vence qualquer barreira e é isso que queremos fazer. É uma honra ser chamada de pastora, mas não sou nenhum ser superior”.
Quando eu começou a frequentar a nova igreja sofreu mais violência por parte da família. “Passei por um descontrole da minha mãe e das minhas irmãs, sofri agressão física do meu pai”, compartilha. “Hoje eu tenho respeito porque impus isso. Mostrei pra eles que a errada não sou eu, errado é o preconceito deles, minha vida com Deus continua ativa”.
Um relatório de 2012 sobre a violência contra a população LGBT+ no Brasil mostra que 58,9% dos agressores é de conhecidos das vítimas.
Criadora e coordenadora da Célula Peniel há um ano, Marianna tem na cabeça o futuro que quer construir para a população LGBT+. Uma nova igreja inclusiva para Bauru. “É necessário dizer para essas pessoas que Jesus ama todas elas”, afirma. O grupo tem 15 membros que participam de reuniões semanais para orar e planejar ações de caridade.
“A gente é militante espiritual, lutamos pela salvação. Muitas pessoas me disseram que eu não ia ser salva, mas eu, e nós, resistimos nessa luta. O Senhor me deu essa missão e essa estratégia”, diz ela, em referência à Célula como instrumento para o trabalho cristão.
Pergunto o que significa o nome Peniel, e Marianna responde citando uma passagem de Gênesis. Face à face com Deus.